A arte ensina a ver o que não é óbvio
Teve uma infância "muito feliz" e uma família que sempre a empoderou, a si e ao irmão. Nunca pensou vir, um dia, a dar aulas, mas desafiada a fazê-lo, desbrava o prazer de aprender a ver através do olhar dos seus alunos.

O pesado portão metálico desliza e revela Fernanda Fragateiro junto a uma cortina em tom escuro. Esperamos a qualquer instante que o ‘pano’ suba, como no teatro. Afastado para o lado, revela a luz que inunda o ateliê da artista, num bairro residencial de Lisboa. Ao fundo, uma janela imensa, retangular, acolhe o sol da manhã. No cinema e na fotografia, fala-se em chiaroscuro, mas não houve tempo para pensar nesse bailado entre luz e sombra. O chão e as paredes servem de palco a esculturas, desenhos, obras de pequena e grande dimensão, muitas delas suspensas na superfície branca. “Mesmo as peças mais pequenas, quando são colocadas no espaço, elas estão numa tensão, e, portanto, elas próprias criam o espaço, a relação entre si, mesmo que não seja uma construção arquitetónica dentro de um espaço expositivo, a própria colocação das peças também constrói um espaço. Ou seja, eu uso muito o vazio como espaço de construção”.
Natural do Montijo, Fernanda Fragateiro instalou-se em Lisboa aos 15 anos. Quisemos saber como começou o seu interesse pelas artes. “Eu não venho de uma família que tenha nada a ver com artes, pelo contrário, o meu pai era pescador, a minha mãe costureira, no Montijo. Tive uma relação muito bonita com o espaço, com o rio, com o vazio do rio, com a luz, com a liberdade, uma grande liberdade para brincar, para descobrir coisas, para construir”. [sorriso] Breve pausa e retoma. “Tive uma infância muito feliz, muito bonita, de ir à pesca como o meu pai, de ir no barco à noite, de partilhar momentos com a minha mãe. Uma família muito querida, que sempre nos empoderou”, a si e ao irmão. E se a Escola de Artes Decorativas António Arroio foi um momento chave na sua vida, antes deste outro momento se revelou, também ele, determinante.
“Eu apanhei o 25 de Abril aos 11 anos. Foi um momento muito importante na minha vida e o que me interessava muito era participar naqueles processos coletivos. Com 11, 12 anos, envolvi-me muito na política, na escola, até nos partidos. Estive na União de Estudantes Comunistas até aos 15 anos, e todo o meu tempo era dedicado àquela partilha, às reuniões comunitárias”.
“Nunca fui uma pessoa muito isolada, pelo contrário, fui sempre muito participativa e muito interessada nos outros, sobretudo”. Diz, com um sorriso, que a dada altura chegou a pensar que “ou iria para a política ou iria para as artes”. Estas levaram a melhor. Primeiro ingressou na António Arroio, pela inspiração que lhe trouxe um professor que aí lecionava e que conheceu durante umas férias, no parque de campismo de Tróia. “Na altura, eu tinha 15 anos e ele tinha 60. Passámos as férias todas a conversar e a ler livros e a trocar livros. Acho que nem fui à praia”. [sorriso] “O que ele me disse sobre a escola seduziu-me de tal maneira que eu, a seguir às férias, fui para a António Arroio”. Depois, seguiu para as Belas Artes. Não terminou o curso. “Foi um choque a relação com os professores. A António Arroio, era uma escola extremamente livre”, enquanto nas Belas-Artes, “o ensino era muito rígido, pouco estimulante”. Entretanto, começou a namorar com um artista mais velho, António de Campos Rosado e integrou-se na comunidade artística. “Eu era mais nova, mas acabei por aprender mais com artistas meus amigos, como o Cabrita, o Croft, do que com a escola”. Realizou diferentes trabalhos, desde cenografia a figurinos para teatro e ilustração. “Fiz muita ilustração, envolvi-me em muitos outros projetos, mas sempre no campo da prática artística das artes plásticas, das artes visuais. Ou seja, a escola deixou de fazer sentido”.
A história da invisibilidade das mulheres artistas
Será que a arte foi uma ‘bolha igualitária’ num mundo masculino, um espaço preservado?
Não propriamente. Os apreciadores das estatísticas ‘feministas’, regra geral, são rápidos a sublinhar que as mulheres artistas representam uma minoria das obras nas coleções públicas e privadas. Fernanda Fragateiro recorda a vinda a Lisboa da artista Judith Shea, nos anos 80, para uma exposição na Gulbenkian. Levou-a a conhecer museus e galerias em Lisboa, e foi confrontada com uma pergunta inesperada: “O que é que se passa? Não há uma única mulher artista, não há uma exposição individual de uma mulher artista, não há mulheres nas coleções públicas… Não vejo mulheres artistas. Nós já fizemos esta luta nos Estados Unidos, mas vocês estão muito aquém”. Fernanda conta que ainda estava na escola, teria uns 19, 20 anos. “Foi ela que me chamou a atenção para isso”.
Volvidas décadas, constatamos que “a história da invisibilidade das mulheres é uma história que se está a contar agora”, afirma a artista. “Estive muito recentemente no ateliê de uma mulher artista que já faleceu, Marília Torres, que eu não conhecia e que praticamente ninguém conhece, no entanto, fez um trabalho bastante notável a nível da escultura”. O trabalho nas artes é um trabalho difícil, frisa a artista. “Acho que, neste momento, há uma consciência, e há mulheres no poder, ou seja, nas instituições, que tomam decisões, há mulheres curadoras, mas durante um período em Portugal não havia mulheres curadoras, não havia mulheres críticas de arte”.
“Muitas mulheres deixaram de trabalhar, porque se não há compras de obras, se não há convites, se não há oportunidades, é muito difícil manter o trabalho”. Mais importante, é que “podemos falar deste assunto abertamente, que era uma coisa que não se podia fazer”. Daí que na sua prática artística, diz, “esse também é um tema que surge, de homenagem a mulheres artistas”. Embora reconheça que, hoje em dia, considera mais importante “fazer exposições com pessoas que tenham uma posição política e crítica sobre o tema, independentemente se são mulheres ou homens”.
Da artista que ensina ao gestor que aprende com artistas
Sobre a ideia de que a Arte resolve problemas, um conceito que há muito defende, explica que o evoca em contraponto “à ideia de que a arte não serve para nada. Nós [artistas] resolvemos problemas, fornecemos uma experiência e uma possibilidade de refletir sobre uma situação”. Esta mensagem tem sido posta em prática nas aulas que dá no Instituto Superior Técnico, no âmbito do curso de arquitetura. Pensava Fernanda que tinha escapado ao ensino por não ter concluído o curso nas Belas-Artes. Mas, há três anos, foi desafiada pela professora Ana Tostões para se juntar “a um grupo incrível de professores, de arquitetos, que eu admiro imenso!” Além disso, “gosto muito de partilhar as minhas ideias e de conversar com rapazes e raparigas de 18, 19 anos. Gosto mesmo muito”. [sorriso] “São pessoas que, ao escolherem arquitetura, também já estão à procura de qualquer coisa que a mim também me interessa. A história, e a prática, da arquitetura em Portugal é de compromisso, não é uma arquitetura comercial. Ao menos o ensino não vai nesse sentido. É da descoberta, de perceber o território, de compreender, de tentar resolver, de trabalhar para a comunidade”. E elogia o trabalho em equipa dos seus alunos, e a forma “extremamente solidária” como o fazem. “Um arquiteto não pode trabalhar senão em equipa. E eu aprendo a ver através dos olhos deles e também aprendo a perceber aquilo que eu penso”.
O olhar do outro traz-lhe à memória uma conversa com uma pessoa que começou por colecionar o seu trabalho. “Depois, acabámos por ficar muito amigos. Tem mais de 80 anos, é norte-americano e trabalha num fundo de investimento de alto risco. Curiosamente, só se dá com artistas”. Um dia, perguntou-lhe por que razão era essa a sua entourage. Respondeu-lhe que “as coisas mais importantes que aprendera na vida, aprendeu-as com os artistas. Foram eles que o ensinaram a ver, a ter outro olhar, a ver aquilo que não é óbvio, a procurar aquilo que não é visível”. E conclui dizendo que isso “o ajuda muito, também, a resolver problemas muito práticos, relacionados com os negócios”.
Apetece dizer que a arte tem o poder de atravessar todos os territórios do pensamento, de os ligar e criar cruzamentos inesperados que nos ajudam a compreender melhor o mundo.






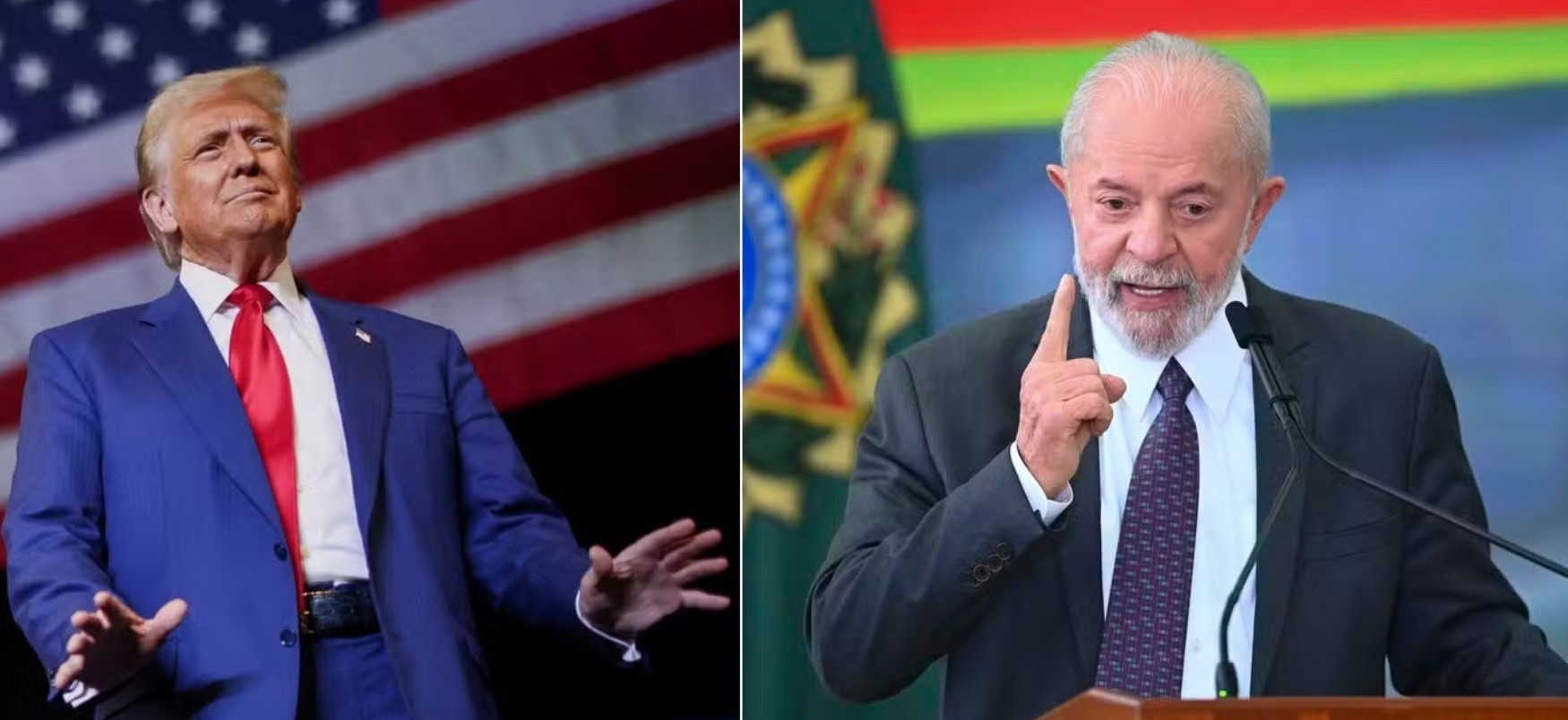









![[Quiz] Escolha seu herói da Marvel favorito e diremos qual lanche te define](https://kanto.legiaodosherois.com.br/w728-h381-gnw-cfill-gcc-f:fbcover/wp-content/uploads/2025/01/legiao_N9g3lAHwYptG.png.webp)




.jpeg?#)
.png?#)
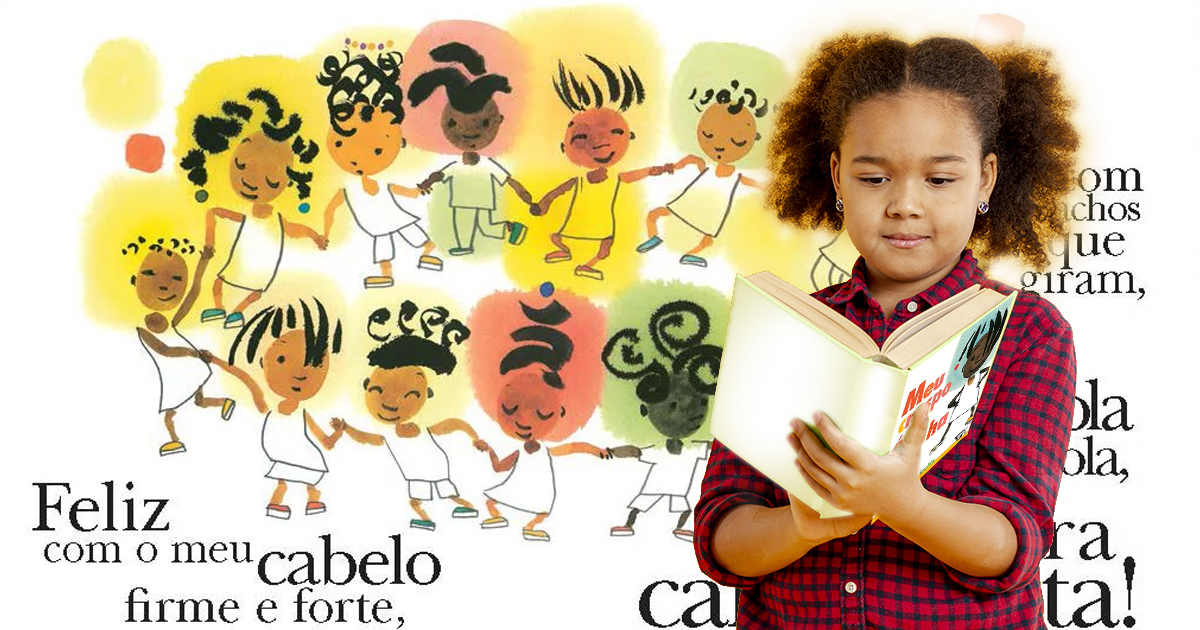






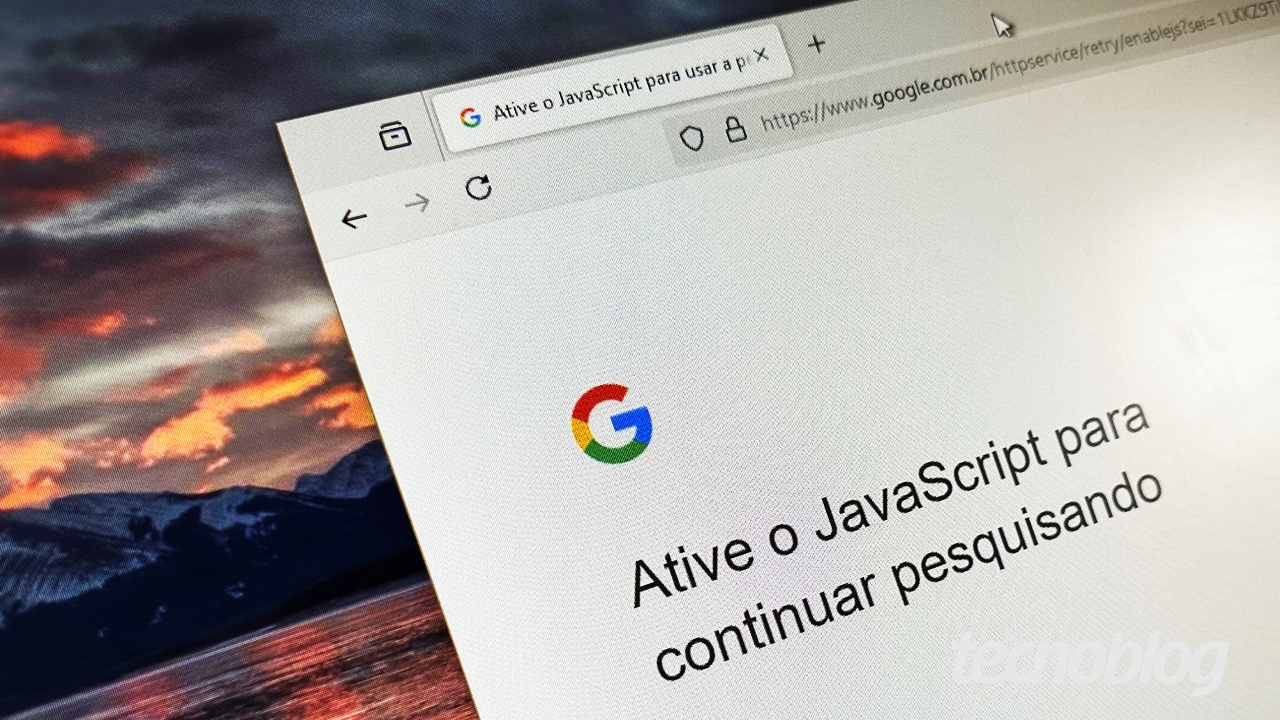


























![[Dúvida do leitor] Alguém já usou a prorrogação de status por parentalidade na Latam Pass? Outros programas de milhagens fazem algo similar?](http://meumilhaodemilhas.com/wp-content/uploads/2025/01/parent-lt-2.png)


















